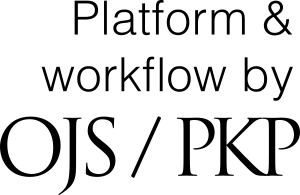APROXIMAÇÕES ENTRE A CIÊNCIA INTEGRAL E O FLUXO SANGUÍNEO DA CIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
DOI:
https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2024v29n3p01Palavras-chave:
Natureza da Ciência, Teoria Ator-Rede, Sociologia da CiênciaResumo
Neste artigo, realizamos uma proposta de integração entre o pensamento de Bruno de Latour, especificamente sobre o Fluxo Sanguíneo da Ciência, com a abordagem integral de Douglas Allchin para permitir possíveis avanços sobre a abordagem de Natureza da Ciência e suas implicações para a Educação em Ciências. Sendo assim, apontamos que o círculo de vínculo e nós do fluxo sanguíneo da Ciência foi proposto como sendo aglutinador de ambos os aportes, pois permeia todos os pontos da proposta de integração e pode possibilitar uma Educação em Ciências comprometida com um mundo melhor, sem ser reduzida a um cientificismo, mas apropriada de forma correta e coerente para o exercício pleno da cidadania de todos os discentes. Com isso, estamos cientes de que o processo de internalização da Ciência não será fácil e ocorrerá de forma gradual, pois só assim será possível o seu uso pelas pessoas em geral e, a partir daí aumentará a confiança na Ciência e a identificação de que ela não é a detentora de todas as verdades, mas homeostática, no sentido de manter em equilíbrio interno as convicções pessoais e, também, para explicar o mundo, sem sofrer variações com o efeito externo dos movimentos anticiência propagados por meio de Fake News em redes sociais.Referências
Afonso, A. S., & Gilbert, J. K. (2010). Pseudo-science: A meaningful context for assessing nature of science. International Journal of Science Education, 32(3), 329-348. https://doi.org/10.1080/09500690903055758.
Allchin, D. (2011). Evaluating Knowledge of the Nature of (Whole) Science. Science & Education, 95(3), 518–542. https://doi.org/10.1002/sce.20432 .
Allchin, D. (2013). Teaching the Nature of Science: Perspectives and Resources. Saint Paul, United States of America: Ships Educational Press. https://doi.org/10.1002/sce.21131.
Allchin, D., Andersen, H. M., & Nielsen, K. (2014). Complementary approaches to teaching nature of science: Integrating student inquiry, historical cases, and contemporay cases in classroom practice. Science Education, 98(3), 461-486. https://doi.org/10.1002/sce.21111.
Allchin, D., & Zemplén, G, A. (2020). Finding the place of argumentation in science education: Epistemics and whole science. Science & Education, 24(5), 907-933. https://doi.org/10.1002/sce.21589.
Almeida, B. C. (2019). Análise de casos históricos da ciência estudados sob a perspectiva da ciência em construção para favorecer reflexões por parte de licenciados sobre Natureza da Ciência. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Recuperado de https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/30699
Almeida, B. C., & Justi, R. S. (2020). Influências de conhecimentos de Natureza da Ciência no planejamento de aulas relacionadas à História da Ciência. Investigações em Ensino de Ciências, 25(3), 433-453. https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2020v25n3p433.
Alvim, M. H., & Zanotello, M. (2014). História das Ciências e Educação Científica em uma perspectiva discursiva: contribuições para a formação cidadã e reflexiva. Revista Brasileira de História da Ciência, 7(2), 349-359. https://doi.org/10.53727/rbhc.v7i2.198.
Avraamidou, L., & Schwartz, R. (2021). Who aspires to be a scientist/who is allowed in science? Science identity as a lens to exploring the political dimension of the nature of science. Cultural Studies of Science Education, 16, 337-344. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11422-021-10059-3.
Barbosa, F. T., & Aires, J. A. (2018). A natureza da ciência e a formação de professores: um diálogo necessário. Actio Docência em Ciências, 3(1), 115-130. https://doi.org/10.3895/actio.v3n1.7093.
Barcellos, M. (2020). Ciência não autoritária em tempos de pós-verdade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 37(3), 1496- 1525. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2020v37n3p1496.
Bartelmebs, V. T., & Souza, R, S. (2021). Pandemia, negacionismo científico, pós-verdade: Contribuições da Pós-Graduação em Educação em Ciências na Formação de Professores. Revista Insignare Scientia. 4(5), 64-85. https://doi.org/10.36661/2595-4520.2021v4i5.12564.
Berjano, N. R. R., Bravo. A. A., & Bonfim, C. S. (2019). Natureza da Ciência (NOS): para além do consenso. Ciência & Educação (Bauru), 25(4), 967-982. https://doi.org/10.1590/1516-731320190040008.
Britto, D. M. C de., & Mello, I. C. (2022). Ensino de Ciências na era da Pós-verdade: Considerações acerca do discurso presente em Fake News. Reamec-Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, 10(1), 1-23. https://doi.org/10.26571/reamec.v10i1.13007.
Cláudio, D. S. O. (2020). Como sabermos o que sabemos? Por que acreditamos nisso? Análise de um modelo de ensino sobre ciência a partir de práticas científicas e epistêmicas escolares. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG. Recuperado de https://www.repositorio.ufop.br/items/8a5dd83f-c5f1-40db-9f7b-f27b50ecaae2.
Canguilhem, G. (2012). Estudos de História e de Filosofia das Ciências-Concernentes aos vivos e à vida. Tradução de Abner Chiquieri. Rio de Janeiro, RJ: Forense.
Cappelle, V., & Coutino, F. A. (2015). Torna-se fisiologista vegetal: potencialidades educacionais de uma controvérsia entre cientistas do século XIX sob o ponto de vista de Bruno Latour. Alexandria revista de Educação em Ciências e Tecnologia, 8(3), 181-205. https://doi.org/10.5007/1982-5153.2015v8n3p181.
Carmona, A. G. (2014). Naturaleza de la ciencia en noticias científicas de la prensa análisis del contenido y potencialidades didácticas. Enseñanza de las ciencias, 32(3), 493-509. Recuperado de https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/287575.
Carmona, A. G., Díaz, J. A. A. (2018). The Nature of Scientific practice and science education rationale of a Set essential pedagogical principles. Science & Education, 27, 435-455. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-018-9984-9.
Carneiro, M. C., & Ramos, M. C. (2022). Epistemologias: Diálogos com as Ciências. Bauru, SP: Gradus/Cultura Acadêmica.
Clough, M. P. (2006). Learners’ Responses to the Demands of Conceptual Change: Considerations for effective nature of science instruction. Science & Education.,15(5), 463-494. https://doi.org/10.1007/s11191-005-4846-7.
Clough, M. P. (2017) History and Nature of Science in Science Education. In K. S. Taber., B. Akpan (Eds.) Science Education. New Directions in Mathematics and Science Education. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers,.
Damasio, F., Peduzzi, L. O. Q. (2018). Para que ensinar ciência no século XXI? Reflexões a partir da Filosofia de Feyerabend e do Ensino Subversivo para uma aprendizagem significativa crítica. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horionte, 20(e2951), 1-18. https://doi.org/10.1590/1983-21172018200114.
Eastwood, J. L., Sadler, T. D., Zeidler, D. L., Lewis, A., Amiri, L., & Applebaum, S. (2012). Contextualizing Nature of Science Instruction in Socioscientific Issues. International Journal of Science Educacion, 34, (12), 2289-2315. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.667582.
Ferreira, G. K. (2018). Reflexões sobre a Natureza da Ciência: Configurações e intenções na formação de professores de Física. (Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. Recuperado de https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/206249/PECT0386-T.pdf.
Feyerabend, P. K. (2016). Ciência, um Mostro-Lições trentinas. (Trad. de Rogério Bettoni). Belo Horizonte, BH: Autêntica.
Forato, T. C. de M. (2009). A natureza da ciência como saber escolar: Um estudo de caso a partir da História da Luz. Vol. 2. (Tese de doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-24092009-130728/publico/Thais_Volume_2.pdf
Forato, T. C. de M., Pietrocola, M., & Martins, R. de A. (2011). Historiografia e Natureza da Ciência na sala de aula. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 28(1), 27-58. Recuperado de https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2011v28n1p27/18162.
Gandolfi, H. E. (2019). In defence of non-epistemic aspects of nature of sience: Insights from na intercultural approach to history of science. Cultural Studies of Science Education. 14, 557-567. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11422-018-9879-8
Gil-Peréz, D., Montoro, I. F., Alís, J. C., Cachapuz, A., & Praia, J. (2001). Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação (Bauru), 7(2), 125-153. Recuperado de https://www.scielo.br/j/ciedu/a/DyqhTY3fY5wKhzFw6jD6HFJ/?format=pdf&lang=pt.
Guerra, A. (2019). Educação Científica numa Abordagem Histórico-Cultural da Ciência. In A. P. B. Silva, & B. A. Moura (Eds.). Objetivos humanísticos, conteúdos científicos: contribuições da história e da filosofia da Ciência para o ensino de Ciências.(pp. 205-226). Campina Grande, PB: EDUEPB.
Hottecke, D., & Allchin D. (2020). Reconceptualizing nature-of-sience education in the age social media. Science Education, 104, 641-666. https://doi.org/10.1002/sce.21575.
Irzik, G., & Nola, R. (2011). A Family Resemblance Approach to the Nature of Science for Science Education. Science & Education, 20(7-8), 591-607. https://doi.org/10.1007/s11191-010-9293-4.
(
Latour, B. (1994). Jamais fomos modernos: Ensaio da antropologia simétrica. (Trad.: Carlos Irineu da Cosa. Rio de Janeiro, RJ: Editora 34.
Latour, B., & Woolgar, S. (1997). A vida de laboratório. (Trad.: Angela Ramalho Vianna). Rio de Janeiro, RJ: Relume Dumar.
Latour, B. (2000). Ciência em Ação: Como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. (Trad.: Ivone C. Benedetti). São Paulo, SP: Unesp.
Latour, B. (2012). Reagregando o social: Uma introdução à teoria ator-rede. (Trad.: Gilson César Cardoso de Souza). Salvador-Bauru, BA-SP: Edufba e Edusc.
Latour, B. (2017). A esperança de Pandora. (Trad.: Gilson César Cardoso de Souza). São Paulo, SP: Unesp.
Leal, K. P., Alcantara, M., & Forato, T. C. de M. (2017). Edwin Hubble e o enigma do redshift: Uma proposta de trabalho baseada na Whole Science. Enseñanza de las ciencias (digital), 3729-3733. Recuperado de : https://www.researchgate.net/profile/Marlon-Alcantara/publication/334151080_EDWIN_HUBBLE_E_O_ENIGMA_DO_REDSHIFT_UMA_PROPOSTA_DE_TRABALHO_BASEADA_NA_WHOLE_SCIENCE/links/5d1a56ac458515c11c093e4a/EDWIN-HUBBLE-E-O-ENIGMA-DO-REDSHIFT-UMA-PROPOSTA-DE-TRABALHO-BASEADA-NA-WHOLE-SCIENCE.pdf
Lederman, N. G. (2006). Syntax of nature of science within inquiry and science instruction. In L. B. Flick & N. G. Lederman (Eds.). Scientific inquiry and Nature of Science. (pp. 301–317). Dordrecht, Netherlands: Springer.
Lederman, N. G. (2018). La simpre cambiante contextualización de la naturaliza de la ciência: documentos recientes sobre la reforma de la educación científica em los Estados Unidos y su impacto em el logro de la alfabetizaci[on científica. Enseñanza de las ciencias, 36(2), 5-22. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2661
Leite, D. A. R., & Silva, D. dos S. (2018). A Natureza da Ciência e a formação inicial de professores: Análise de uma proposta didática desenvolvida em um curso de Licenciatura em Física. Experiência em Ensino de Ciências,13(5), 555-565. Recuperado de https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/121/103
Licio, J. G. (2018). Prêmio Nobel: Palestras oficiais sob a perspectiva da ciência Integral. (Dissertação de mestrado), Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81131/tde-02052019-154516/publico/Jose_Guilherme_Licio.pdf
Lima, N. W., Ostermann, F., & Calvalcanti, C. J. de H. (2018). A não-modernidade de Bruno Latour e suas implicações para a Educação em Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 35(2), 367-388. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2018v35n2p367.
Lima, N. W. (2018). O lado oculto do fóton: A estabilização de um actante medida por diferentes gêneros do discurso. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. Recuperado em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/181004/001073000.pdf.
Lima, N, W., & Nascimento, M. M. (2021). Aterrando no Sul: Uma proposta político-epistemológica para a área de Educação em Ciências do Antropoceno. Ciência& Educação (Bauru), 27(e21041), 1-16. https://doi.org/10.1590/1516-731320210041
Longino, H. (2002). The fate of knowledge. New Jersey, United States of America: Princeton University Press.
Maia, P., Justi, R., & Santos, M. (2021). Aspects About Science in the context of production and communication of Knowledge of Covid-19. Science & Education, 30, 1075-1098. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00229-8
Martins, A. F. P. (2015). Natureza da Ciência no Ensino de Ciências: Uma proposta baseada em “temas” e “questões”. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 32(3), 703-737. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2015v32n3p703
Massoni, N. T., & Moreira, M. A. (2017). Visões epistemológicas (ou sociológicas) recentes da ciência: Uma introdução. Texto de apoio ao professor de Física, 28(3), 1-84, Instituto de Física. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. Recuperado de https://www.if.ufrgs.br/public/tapf/tapf_v28n3_massoni_moreira.pdf
Matthews, M. R. (1998). In Defense of Modest Goals when teaching about the Nature of Science. Journal of Research in Science Teaching, 35(2), 161–174. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199802)35:2<161::AID-TEA6>3.0.CO;2-Q
Matthews, M. R. (2012). Changing the focus: from nature of science to feature of science. In: Khine, M. S. (org.). Advances in nature of science research (pp. 3-26). Dordrecht, Netherlands: Springer.
McComas, W. F., Almazroa, H., & Clough, M. P.; (1998). The Nature Of Science in Science education: An introduction. Science & Education, 7(6), 511-532. https://doi.org/10.1023/A:1008642510402
McComas, W. F. (2008). Seeking Historical Examples to Illustrate key aspects of the Nature of Science. Science & Education, 17(2–3), 249–263. https://doi.org/10.1007/s11191-007-9081-y
Melo, J, P., Coutinho, F. A., Rodrigues e Silva, F. A., & Vilas-Boas, A. (2022). Uma contribuição ao ensino de genética por meio de uma abordagem do trabalho de Mendel à luz do fluxo sanguíneo da ciência de Bruno Latour. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 22, 1-19. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2022u355373
Melo, L. W. S. de., Passos, M. M., & Salvi, R. F. (2020). Análise de Publicações ‘Terraplanistas’ em rede social: Reflexões para o Ensino de Ciências sob a ótica discursiva de Foucault. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 20, 275–294. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2020u275294
Mendonça, P. C. C. (2020). De que conhecimento sobre Natureza da Ciência estarmos falando? Ciência & Educação, 26, (e20003), 1-16. https://doi.org/10.1590/1516-731320200003
Moreira, M. A. (2017). O Bóson de Higgs: Uma conjetura audaz?. Ensino e tecnologia em revista, 1(2), 141-157. https://doi.org/10.3895/etr.v1n2.7330
Moreira, M. A. (2021). Desafios no ensino da física. Revista Brasileira de Ensino de Física, 43(supl. 1), 1-8. https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0451
Moreira, M, B., Duarte, G. S., Faustino, G. A. A., Silva, J. P., Santos, V. L. L. dos., Benite, C. R. M., & Benite, A. M. C. (2022). Química na cozinha: Estudos sobre a herança alimentar afrodiaspórica em nível médio. Revista virtual de Química, 15(3), 621-632, Recuperado de https://rvq.sbq.org.br/pdf/v15n3a17
Moura, B. A. (2014). O que é natureza da Ciência e qual a sua relação com a História da Ciência? Revista Brasileira de História da Ciência, 7(1), 32-46. https://doi.org/10.53727/rbhc.v7i1.237.
Moura, C., Camel, T., Guerra, A. (2020). A natureza da ciência pelas lentes do currículo: Normatividade curricular, contextualização e os sentidos de ensinar sobre ciências. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 22, 1-27. https://doi.org/10.1590/1983-21172020210114.
Moura, G. Y. S., Senabio, K. P. da C., Miranda, A. C. D., & Mackedanz, L. F. (2022). Disseminação do Ensino de Física no Twitter: Uma análise altmétrica. Reamec- Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, 10(2), 1-19. https://doi.org/10.26571/reamec.v10i2.13541
Nogueira, L, C, do, N., Silva, E. F. R., Matos, N. L., Santos, D. O. dos., & Oliveira, V. da C. (2021). Interdisciplinaridade Decolonial no Espaço Não Formal: Saberes dos Ferreiros Africanos usados durante a História da Humanidade. Revista debates em Ensino de Química.,7(2), 87-104. https://doi.org/10.53003/redequim.v7i2.4098
Oleques, L. C., Boer, N., & Santos, M. L. B. (2013). Reflexões acerca das diferentes visões sobre a Natureza da Ciência e crenças de alunos de um curso de Ciências Biológicas. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 12(1), 110-125. Recuperado de https://reec.webs.uvigo.es/volumenes/volumen12/REEC_12_1_6_ex686.pdf
Oliveira, J. A. de. (2021). Em quem e no que confiar?: Análise de conhecimento funcional de Natureza da Ciência de Licenciandos em Química. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação. Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, M. G.. Recuperado de https://repositorio.ufop.br/server/api/core/bitstreams/314dd870-dace-4f38-9a82-85d42de2b1a1/content
Oliveira, J. M. de., Batinga, V. T. S., & Régnier, N. C. (2020). Concepções de estudantes sobre a Natureza da Ciência a partir de uma abordagem histórica do modelo atômico de Bohr. Investigações no ensino de Ciências.,15(2), 47-67. Recuperado de https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/714
Peron, T. da S. (2020). Ensino de Ciências e a validação do saber científico: Um estudo sob a ótica da História Cultural da Ciência e da Sociologia e Filosofia da de Bruno Latour. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, RJ. Recuperado de https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.xhtml?popup=true&id_trabalho=9670772
Portugal, K. O., & Broietti, F. C. D. (2020). Visões acerca de Natureza da Ciência de formandos em licenciatura em química. Actio Docência em Ciências, 5(1), 1-18. Recuperado de https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/10402/7527
Pumfrey. S. (1991). History Of Science in the National Science Curriculum: A critical review of resources and their aims. Bristsh Journal for the History of Science, 24(1), 61-78. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/4027016
Queirós, W, P. Errobidart, N. C. G., Vinholi Júnior, A. J., & Nunes, C. L. C. (Orgs.). (2023). Perspectivas de construção do conhecimento no ensino de ciências. São Paulo, SP, Pimenta Cultural. https:doi.org./10.31560/pimentacultural/2023.96238
Reis, P. (2021). Desafios à Educação em Ciências em tempos conturbados. Ciência & Educação (Bauru). 27(e21000), 1-9. https://doi.org/10.1590/1516-731320210000
Saito, M. T. (2020). A noção de verdade e a circulação do conhecimento científico em Fleck: Elementos para uma reflexão sobre a era da pós-verdade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física.,37(3), 1217-1249. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2020v37n3p1217
Santos, F. A., Santana, I. C. H., & Silveira, A. P. (2017). A Natureza da Ciência na sala de aula: Conhecendo concepções e possibilidades no Ensino de Ciências. Tear revista de Educação, Ciência e Tecnologia, 6(2), 1-13. https://doi.org/10.35819/tear.v6.n2.a2481.
Santos, M. (2018). Uso da História da Ciência para favorecer a compreensão dos estudantes do Ensino Médio sobre ciência. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 18(2), 641-668. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018182641
Santos, M., Maia, P., & Justi, R. (2020). Um modelo de ciências para fundamentar a Introdução de aspectos de Natureza da Ciência em contextos de ensino e para analisar tais contextos. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 20, 581-616. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2020u581616
Santos, V. (2016). Abrindo a caixa-preta de uma sequência didática: Uma análise Ator-Rede da aprendizagem profissional docente de um professor de Biologia. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e inclusão social. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Recuperado de https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-ARRHKG/1/disserta__o_victor_marcondes_de_freitas_santos.pdf
Sasseron, L. H., & Carvalho, A. M. P. de C. (2011). Alfabetização Científica: Uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências, 6(1), 59, 77. Recuperado de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844768/mod_resource/content/1/SASSERON_CARVALHO_AC_uma_revisão_bibliográfica.pdf
Sasseron, L. H. (2018). Ensino de Ciências por Investigação e o desenvolvimento de práticas: Uma mirada para a Base Nacional Comum Curricular. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 18 (3), 1061-1085. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec20181831061
Sasseron, L. H., & Silva, M. B. (2021). Alfabetização Científica e domínios do conhecimento científico: Proposições para uma perspectiva formativa comprometida com a transformação social. Ensaio-Pesquisa em Educação em Ciências, 23, 1-20. https://doi.org/10.1590/1983-21172021230129
Schiffer, H., & Guerra, A. (2019). Problematizando Práticas Científicas em aulas de Física: o uso de uma História interrompida para se discutir Ciência de forma epistemológica-contextual. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 19, 95-127. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2019u95127
Sepini, R. P., & Maciel, M. D. (2014). Mudanças de Concepções atitudinais sobre natureza da ciência e tecnologia em estudantes da escola básica após intervenção didática. Amazônia revista de Educação em Ciências e Matemáticas, 10(20), 101-111. Recuperado de https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/2317/2563
Silva, G. R. (2019). A Teoria Histórico Cultural como estratégia para a construção de conceitos científicos em uma abordagem histórico-contemporânea da Termodinâmica. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. Recuperado em: https://posgraduacao.ufms.br/portal/trabalho-arquivos/download/6976
Silva, E. L., Camargo, M. J. R., & Benite, A. M. C. (2022). Cerveja Egípcia? Educação para as relações étnico-raciais (EREAR) na formação docente em Química. Química Nova, 54(2), 235-244. https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170833
Silva, V. C. da., & Videira, A. A. P. (2020). Como as Ciências morrem? Os ataques ao conhecimento na era da pós-verdade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 37(3), 1041-1073. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2020v37n3p1041
Teixeira, E, S., Freire-Junior, O., & El-Hani, C, N.; (2009). A influência de uma abordagem contextual sobre as concepções acerca da Natureza da Ciência de Estudantes de Física. Ciência & Educação (Bauru), 15(3), 529-556. https://doi.org/10.1590/S1516-73132009000300006.
Teixeira, O. P. B. (2019). A Ciência, a Natureza da Ciência e o Ensino de Ciências. Ciência & Educação (Bauru), 25(4), 851-854. https://doi.org/10.1590/1516-731320190040001
Vilela, M, L., & Selles, S. E. (2020). É possível uma Educação em Ciências em tempos de negacionismo científico? Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 37(3), 1722-1747. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2020v37n3p1722
Vital, A., & Guerra, A. (2017). A implementação da História da Ciência no Ensino De Física: Uma reflexão sobre as implicações do cotidiano escolar. Ensaio- Pesquisa em Educação em Ciências,,19, 1-21. https://doi.org/10.1590/1983-21172017190127
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Geilson Rodrigues Da Silva, Wellington Pereira de Queirós, Marcelo Carbone Carneiro

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
A IENCI é uma revista de acesso aberto (Open Access), sem que haja a necessidade de pagamentos de taxas, seja para submissão ou processamento dos artigos. A revista adota a definição da Budapest Open Access Initiative (BOAI), ou seja, os usuários possuem o direito de ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e fazer links diretos para os textos completos dos artigos nela publicados.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Os autores mantém os direitos autorais sobre suas produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso comercial dos trabalhos.