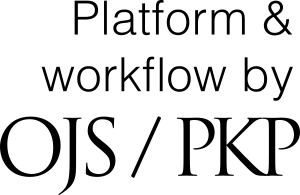INTERAÇÕES DO PÚBLICO ESCOLAR EM DOIS DIFERENTES TIPOS DE MUSEUS DE CIÊNCIAS
DOI:
https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2020v25n3p41Palavras-chave:
Estudos de Público, Interações sociais, Museu de Ciências e de Tecnologia, Museu tradicional interativo, Museu tradicional ortodoxoResumo
Este trabalho buscou analisar a visita de público escolar em dois diferentes tipos de Museus de Ciências. Foram observadas interações de estudantes visitantes entre si, com professores, com mediadores e com as exposições nessas instituições. A revisão teórica abarcou obras clássicas e estudos mais recentes acerca do tema. A abordagem metodológica de natureza qualitativa com caráter exploratório empregou como técnica observações naturalistas, não-participantes em três museus de Ciências em município da região sul do Brasil: um de Ciências e Tecnologia, tradicional do tipo interativo, e dois tradicionais ortodoxos. Efetuou-se análise de conteúdo, sendo criadas categorias de interação. No museu tradicional do tipo interativo foram mais frequentes interações pessoa-objeto e ocorreram algumas interações visitante-visitante. Nos museus tradicionais ortodoxos, interações pessoa-pessoa foram mais marcantes, sobretudo interações entre visitantes e mediadores. As interações de visitantes com professores foram mais comumente observadas em um dos museus ortodoxos. Neste também foi observada a realização de tarefas e a expressão de associação das exposições com conhecimentos prévios pelos alunos, nenhuma das quais puderam ser observadas no museu interativo. A leitura dos textos explicativos acerca dos objetos e experimentos expostos foi raramente observada nos três museus, embora tenha sido um pouco mais comum no museu interativo. O estudo empírico mostrou que as características dos museus e a atuação dos mediadores influenciam o público, cujos interesses e bagagens de conhecimento marcam a forma como o acervo é explorado.Referências
Absolon, B. A., Figueiredo, F. J. de, & Gallo, V. (2018). O primeiro Gabinete de História Natural do Brasil (“Casa dos Pássaros”) e a contribuição de Francisco Xavier Cardoso Caldeira. Filosofia e História da Biologia, 13(1), 1-22. Recuperado de http://www.abfhib.org/FHB/FHB-13-1/FHB-v13-n1-01.html
Almeida, A. M., & Lopes, M. M. (2003). Modelos de Comunicação Aplicados aos Estudos de Públicos de Museus. Rev. Ciênc. Hum., 9(2), 137-145. Recuperado de https://docplayer.com.br/9733208-Modelos-de-comunicacao-aplicados-aos-estudos-de-publicos-de-museus.html
Baniwa, G. (2019) Direitos Humanos, Educação Indígena e Interculturalidade: narrativas e conexões com o bem viver. In M. M. Menezes, C. E. Sperb, A. O. Petry, W. M. Silva, & O. A. Soares (Orgs.). Direitos Humanos em Debate: marcadores sociais da diferença (pp. 22-45). Porto Alegre, RS: Cirkula. Recuperado de https://livrariacirkula.com.br/direitos-humanos-em-debate
Burke, P. (2018). Writing the history of knowledge in Brazil. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 25(3), 859-869. https://doi.org/10.1590/s0104-59702018000400014
Carletti, C. (2016). Mediadores de centros e museus de ciência brasileiros: quem são esses atores-chave na mediação entre a ciência e o público? (Tese de doutorado) Programa de Pós-Graduação de Ensino em Biociências e Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Recuperado de https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/17693
Casazza, I. F. (2012). O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 28(3), 605-606. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/csp/v28n3/21.pdf
Cazelli, S., Queiroz, G., Alves, F., Falcão, D., Valente, M. E., Gouvêa, G., & Colinvaux, D. (1999). Tendências pedagógicas das exposições de um museu de ciência. In Anais do Seminário Internacional sobre Implantação de Centros e Museus de Ciência, 1. UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. Recuperado de http://www.casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/Artigos/Seminario/Index.htm
Çil, E., Nihal, M., & Yanmaz, D. (2016). Design, implementation and evaluation of innovative science teaching strategies for non-formal learning in a natural history museum. Research in Science & Technological Education, 34(3), 325-341. https://doi.org/10.1080/02635143.2016.1222360
Cury, C. R. J. (2002) Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. Cadernos de Pesquisa, (116), 245-262. https://doi.org/10.1590/S0100-15742002000200010
Coutinho-Silva, R., Persechini, P. M., Masuda M., & Kutenbach, E. (2005). Interação museu de ciências-universidade: contribuições para o ensino não-formal de ciências. Ciência e Cultura, 57(4), 24-25. Recuperado de http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252005000400015
Dawborn-Gundlach, M., Pesina, J., Rochette, E., Hubber, P., Gaff, P., Henry, D.… Redman, C. (2017). Enhancing pre-service teachers' concept of Earth Science through an immersive, conceptual museum learning program (Reconceptualising Rocks). Teaching and Teacher Education, (67), 214-226. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.012
Desvallées, A., & Mairesse, F. (eds) (2013). Conceitos-chave de Museologia. (Tradução e comentários: B. B. Soares & M. X. Cury). São Paulo, SP: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus; Pinacoteca do Estado de São Paulo; Secretaria de Estado da Cultura. Recuperado de http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2014/03/PDF_Conceitos-Chave-de-Museologia.pdf
Falcão, D. (1999). Padrões de Interação e Aprendizagem em Museus de Ciência. (Dissertação de Mestrado) Educação, gestão e difusão em biociências. Departamento de Bioquímica Médica do Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. Recuperado de http://www.btdea.ufscar.br/arquivos/td/1999_SILVA_D_UFRJ.pdf
Flick, U. (2009). Introdução à pesquisa qualitativa. (Tradução J. E. Costa. 3a ed.). Porto Alegre, RS: Artmed.
Fornet-Betancourt, R. (2002) Lo intercultural: el problema de su definición. San Jose, Costa Rica: Pasos, (103) 1-3. Recuperado de http://deicr.org/IMG/pdf/pasos103.pdf
Fors, V. (2013). Teenagers’ Multisensory Routes for Learning in the Museum Pedagogical Affordances and Constraints for Dwelling in the Museum. Senses & Society, Bloomsbury. 8(3), 268-289. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/174589313X13712175020479?journalCode=rfss20
Hein, G. E. (1998). Learning in the Museum. Abingdon: Routledge.
IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus. (n. d.). Tipologias de museus. In IBRAM. Plano Museológico: Implantação, Gestão e Organização de Museus. doc. eletrônico. Recuperado de https://www.scribd.com/doc/120485071/Plano-Museologico
IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus. Coordenação de Museologia Social e Educação (2017) Política Nacional de Educação Museal. Porto Alegre, RS. Recuperado de https://pnem.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Museal.pdf
IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus (2019). Ibram promove debate sobre a proposta do conceito de museu pelo ICOM. Brasília, DF, 12.12.2019. Recuperado de https://www.museus.gov.br/ibram-promove-debate-sobre-a-proposta-do-conceito-de-museu-pelo-icom/
ICOM - International Council of Museums – Portugal (2015) Definição: Museu. 19.03.2015. Recuperado de http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/
Jacobucci, D. F. C. (2008). Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. Revista em Extensão, 7(1), 55-66. https://doi.org/10.14393/REE
Jardim, W. S. (2013). Museus de Ciências: uma proposta de ensino para espaços não formais. (Dissertação de mestrado) Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG. Recuperado de http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/EnCiMat_JardimWS_1.pdf
Laburú, C. E., Arruda, S. de M., & Nardi, R. (2003). Pluralismo metodológico no ensino de ciências. Ciência & Educação (Bauru), 9(2), 247-260.
Lee, R. (2000). Introduction to Unobtrusive Methods. In R. Lee. Unobtrusive Methods in Social Research. (Cap. 1, pp.1-16). Buckingham: Open University Press.
Lopes, M. M. (2009). O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX. (2a ed.). São Paulo: HUCITEC, Universidade de Brasília.
Marandino, M. (2002). A biologia nos museus de ciências: a questão dos textos em bioexposições. Ciência & Educação (Bauru), 8(2), 187-202. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132002000200004
Marandino, M. (2005). A pesquisa educacional e a produção de saberes nos museus de ciência. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 12(supl.), 161-181. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702005000400009
Marandino, M., & Ianelli, I. T. (2007) Concepções pedagógicas das ações educativas dos museus de ciências. Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência, Florianópolis, SC, Brasil, Recuperado de http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/vienpec/CR2/p770.pdf
Marandino, M., Selles, S. E., & Ferreira, M. S. (2009). Ciências Biológicas, museus e educação. In A. Piedade (ed.). Ensino de Biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos (v. único, Cap. II, pp.151-168). São Paulo, SP: Cortez.
Martins, L. C. (2011). A constituição da educação em museus: o funcionamento do dispositivo pedagógico museal por meio de um estudo comparativo entre museus de artes plásticas, ciências humanas e ciência e tecnologia. (Tese de doutorado) Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-04072011-151245/
Massarani, L., Moreira, I. C., & Fatima, B. (Orgs.) (2002). Ciência e Público: caminhos da divulgação científica no Brasil. (1ª ed). Rio de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fórum de Ciência e Cultura. Recuperado de http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/media/cienciaepublico.pdf
Massarani, L. (Ed.) (2008). Ciência e Criança: a divulgação científica para o público infanto-juvenil. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Recuperado de http://www.museudavida.fiocruz.br/media/ciencia_e_crianca.pdf
Massarani, L., Reznik, G., Rocha, J. N., Falla, S., Rowe, S., Martins, A. D., & Amorim, L. H. (2019). A experiência de adolescentes ao visitar um museu de ciência: um estudo no museu da vida. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 21(e10524). https://doi.org/10.1590/1983-21172019210115
Mestra Griot Elaine (2019) Eu só queria começar dizendo: nasci. In M.M. Menezes, C.E. Sperb, A.O. Petry, W.M. Silva, & O.A. Soares (Orgs.). Direitos Humanos em Debate: marcadores sociais da diferença (pp. 136-151). Porto Alegre, RS: Cirkula. Recuperado de https://livrariacirkula.com.br/direitos-humanos-em-debate
Minayo, M. C. S., Deslandes, S. F., & Gomes, R. (2008). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. (27ª ed.) (Coleção temas sociais). Petrópolis, RJ: Vozes.
Pereira, B., & Valle, M. G. (2017). O discurso museológico e suas tipologias em um museu de história natural. Ciência & Educação (Bauru), 23(4), 835-849. https://doi.org/10.1590/1516-731320170040004
Possamai, Z. R. (2012). “Lição de coisas” no museu: o método intuitivo e o Museu do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 20(43), 1-16. Recuperado de http://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/1124/1027
Rose, S.W. (2016) Museum–University Partnerships Transform Teenagers’ Futures, Journal of Museum Education, 41(4), 286-292. https://doi.org/10.1080/10598650.2016.1232510
Santos, B. S. (2010) A gramática do tempo: para uma nova cultura política. (3a ed.) (Coleção para um novo senso comum, v. 4). São Paulo, SP: Cortez.
Santos, S. C. S., & Cunha, M. B. (2018). A pesquisa em espaços de educação não formal em ciências na Região Norte: o caso do Bosque da Ciência. Amazônia – Revista de Educação em Ciências e Matemática, 14(32), 160-173. http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v14i32.5801
Sápiras, A. (2007). Aprendizagem em museus: uma análise das visitas escolares no museu biológico do Instituto Butantan. (Dissertação de mestrado) Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10122007-162252/
Schiele, B. (2016) Visitor studies: A short history. Loisir et Société / Society and Leisure, 39(3), 331-356. https://doi.org/10.1080/07053436.2016.1243834
Schwarcz, L. M. (2000) As barbas do Imperador: Dom Pedro II, um monarca nos trópicos. (2a ed.) São Paulo, SP: Companhia das Letras.
Sily, P. R. M. (2013). Casa de Ciência, Casa de Educação: ações educativas do
Museu Nacional (1818 – 1935). In Anais do VII Congresso Brasileiro de História da Educação. Cuiabá, MT. Recuperado de http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe7/pdf/07- HISTORIA DAS INSTITUICOES E PRATICAS EDUCATIVAS/CASA DE CIENCIA- CASA DE EDUCACAO-ACOES EDUCATIVAS.pdf
Studart, D. C. (2008). Conhecendo a experiência museal das crianças por meio de desenhos. In L. Massarani (Ed.). Ciência e criança: a divulgação científica para o público infanto-juvenil (pp. 20-31). Rio de Janeiro, RJ: Museu da Vida. Recuperado de http://www.museudavida.fiocruz.br/images/Publicacoes_Educacao/PDFs/cienciaecrianca.pdf
Valente, M. E. A. (2009) Museus de ciências e tecnologia no Brasil: uma história da museologia entre as décadas de 1950-1970. (Tese de doutorado) Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. Recuperado de http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/287022
Valente, M. E. A. (2014). Interseções necessárias: história, museologia e museus de ciências e tecnologia. Revista Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UNB, 3(5), 37-53. Recuperado de https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/issue/view/589
Wagensberg, J. (2008). Museu pra criança ver (e sentir, tocar, ouvir, cheirar e conversar). In L. Massarani (ed.) Ciência e Criança: a divulgação científica para o público infanto-juvenil. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Recuperado de http://www.museudavida.fiocruz.br/media/ciencia_e_crianca.pdf
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
A IENCI é uma revista de acesso aberto (Open Access), sem que haja a necessidade de pagamentos de taxas, seja para submissão ou processamento dos artigos. A revista adota a definição da Budapest Open Access Initiative (BOAI), ou seja, os usuários possuem o direito de ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e fazer links diretos para os textos completos dos artigos nela publicados.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Os autores mantém os direitos autorais sobre suas produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso comercial dos trabalhos.