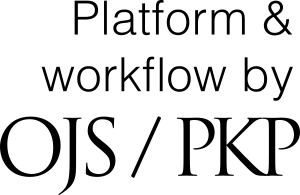A MOTIVAÇÃO E O ENGAJAMENTO DE ALUNOS EM UMA ATIVIDADE NA ABORDAGEM DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO
DOI:
https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2019v24n2p72Palavras-chave:
Ensino por Investigação, engajamento, motivaçãoResumo
Neste trabalho investigamos a motivação e o engajamento de estudantes do sexto (6o) ano de duas escolas públicas (Urbana e Rural) durante uma atividade na abordagem do Ensino por Investigação. Na coleta de dados utilizamos vídeogravações e materiais produzidos pelos alunos. Para análise e organização de dados, escolhemos a análise de conteúdo e categorizações utilizando referenciais teóricos para os níveis do engajamento (comportamental, emocional e cognitivo) e os fatores do engajamento (vigor, dedicação, absorção). Nossos resultados demonstram que as atividades na abordagem do Ensino de Ciências por Investigação são potencialmente capazes de motivar para promover nos alunos diferentes níveis e fatores de engajamento.Referências
Almeida, M. J. P. M (2004). Discursos da ciência e da escola: ideologia e leituras possíveis. Campinas: Mercado das Letras.
Azevedo, M. C. P. S. (2010). Ensino por Investigação: problematizando as atividades em sala de aula. In A. M. P de Carvalho (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática (pp.19-33). São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning,.
Baptista, M. L. M. (2010). Concepção e implementação de actividades de investigação: um estudo com professores de física e química do ensino básico. (Tese de doutorado). Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. Recuperado de http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1854
Bardin, L. (2006). Análise de conteúdo (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa, Portugal: Edições 70.
Borges, O., Julio, J. M., & Coelho, G. R. (2005). Efeitos de um ambiente de aprendizagem sobre o engajamento comportamental, o engajamento cognitivo e sobre a aprendizagem. In R. Nardi & O. Borges (Eds.), Atas do V Encontro de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) (pp. 1-12). Bauru, SP. Recuperado de http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/3/pdf/p462.pdf
Bybee, R. W. (2006). Scientific Inquiry and Science Teaching. In L. B. Flick & N. G. Lederman (Eds.), Scientific Inquiry and Nature of Science: Implications for Teaching, Learning and Teacher Education (vol. 25, pp. 1-14). Dordrecht, Netherlands: Springer. http://doi.org/10.1007/978-1-4020-5814-1_1
Carvalho, A. M. P., Vannucchi, A. I., Barros, M. A., Gonçalves, M. E. R., & Rey, R. C. (1998). Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico. São Paulo, SP: Scipione.
Carvalho, A. M. P. (2011). Ensino e aprendizagem de Ciências: referenciais teóricos e dados empíricos das sequências de ensino investigativas (SEI). In M. D. Longhini (Org.). O uno e o Diverso na Educação (pp. 253-266). Uberlândia, MG: Edufu.
Carvalho, A. M. P., & Sasseron, L. H. (2012). Sequências de Ensino Investigativas - SEI: o que os alunos aprendem?. In G. Tauchen & J. A. Silva (Org.). Educação em Ciências: epistemologias, princípios e ações educativas (pp. 152-173). Curitiba, PR: Crv.
Carvalho, A. M. P. (2013). Ensino por Investigação : condições para implementação em sala de aula. São Paulo, SP: Cengage Learning.
Carvalho, A. de S. (1988). Metodologia da entrevista: uma abordagem fenomenológica. Rio de Janeiro, RJ: Agir.
Dewey, J. (1959). Democracia e educação: introdução a filosofia da educação (3a ed.). São Paulo, SP: Comp. Ed. Nacional.
Dewey, J. (1971). Experiência e educação. São Paulo, SP: Comp. Ed. Nacional.
Duschl, R. A. (2008). Science education in three-part harmony: balancing conceptual, epistemic and social learning goals. Review of Research in Education, 32(1), 268-291. Recuperado de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2671447/mod_resource/content/1/2.2.Science educationa in three part harmony.pdf
Erduran, S. (2008). Methodological Foundations in the Study of Science Classroom Argumentation. In M. O. Jiménez-Aleixandre & S. Erduran (Orgs). Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research (pp. 47-69). Recuperado de https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/87288/mod_resource/content/1/Erduran (2007) - Argumentation in science education.pdf
Erickson, F. (1989) Metodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. In M. C. Wittrock, (Org.). La investigación de la enseñanza II: métodos cualitativos y de observación (pp. 195-301). Barcelona, España: Paidos,.
Ferreira, M. S., & Selles, S. E. (2005). Entrelaçamentos históricos das Ciências Biológicas com a disciplina escolar Biologia: investigando a versão azul do BSCS. In R. Nardi & O. Borges. Atas do V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), (pp. 1-12). Bauru, SP.
Recuperado de: http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/venpec/conteudo/index.htm
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109. http://doi.org/10.3102/00346543074001059
Freire, A. M. (1993). Um olhar sobre o ensino da Física nos últimos cinquenta anos. Revista de Educação, 03 (1), 37-49.
Freire, P. (1983). Educação e mudança. Coleção Educação e mudança (9a ed.). Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra.
Júlio, J., Vaz, A. & Fagundes, A. (2011). Atenção: alunos engajados - análise de um grupo de aprendizagem em atividade de investigação. Ciência & Educação (Bauru), 17(1), 63-81.
http://doi.org/10.1590/S1516-73132011000100005
Krasilchik. M. (2000). Reformas e Realidade: o caso do ensino de ciências. São Paulo em Perspectiva, 14 (1), 85-93. http://doi.org/10.1590/S0102-88392000000100010
Leite, L. (2001). Contributos para uma utilização mais fundamentada do trabalho laboratorial no ensino das ciências. In H. V. Caetano & M. G. Santos (Orgs.). Cadernos Didácticos de Ciências, (1), 77-96. Recuperado de https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10295/1/Contributos%20para%20uma%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20mais%20fundamentada%20do%20trabalho%20laboratorial%20no%20ensino%20das.pdf
Lima, M. E. C. C., & Maués, E. (2006). Uma releitura do papel da professora das séries iniciais no desenvolvimento e aprendizagem de ciências das crianças. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), 8(2), 184-198. http://doi.org/10.1590/1983-21172006080207
Ludke, M., & André, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: SP: Epu
Martins, J., & Bicudo, M. (2005). A pesquisa qualitativa em psicologia. São Paulo, SP: Centauro.
MEC(1998). Parâmetros curriculares nacionais: Ciências naturais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC/SEF. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
Minayo, M. C. de S. (1998). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. (5a ed.). São Paulo, SP: Hucitec-Abrasco.
Moreira, D. A. (2004). O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo, SP: Pioneira Thomson.
Paiva, D. I. de (2008). Crianças de zona rural, alunos de escola urbana. (Dissertação de Mestrado em Linguística Aplicada). Instituto de Estudo da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. Recuperado de http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/269538/1/Paiva_DalvaInfantinide_M.pdf
Perrenoud, P. (2000). Construir competências é virar as costas aos saber saberes?. Pátio Revista
Pedagógica, 3(11), 70-80. Recuperado de
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2503.PDF
Pozo, J. I. (2002). Aprendizes e Mestres: a nova cultura de aprendizagem. Porto Alegre, RS: Artmed.
Sandoval, W. A. (2005). Understanding students’ practical epistemologies and their Influence on learning through inquiry. Science Education, 89(4), 634-656. http://doi.org/10.1002/sce.20065
Sasseron, L. H. (2015). Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), 17 (n. esp.), 49-67. http://doi.org/10.1590/1983-2117201517s04
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92. http://doi.org/10.1023/A:1015630930326
Tapia, J. ,& Fita, E. (2000). Motivação na sala de aula. São Paulo, SP: Loyola.
Trópia, G. (2009). Relações dos alunos com o aprender no Ensino de Biologia por atividades investigativas. (Dissertação de Mestrado). PPG em Educação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina , Florianópolis, SC. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/93177
Zômpero, A. F., & Laburú, C. E. (2011). Atividades investigativas no ensino de ciências: aspectos históricos e diferentes abordagens. Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), 13(3), 67-80. http://doi.org/10.1590/1983-21172011130305
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
A IENCI é uma revista de acesso aberto (Open Access), sem que haja a necessidade de pagamentos de taxas, seja para submissão ou processamento dos artigos. A revista adota a definição da Budapest Open Access Initiative (BOAI), ou seja, os usuários possuem o direito de ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e fazer links diretos para os textos completos dos artigos nela publicados.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Os autores mantém os direitos autorais sobre suas produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso comercial dos trabalhos.