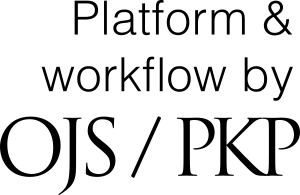PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: HORIZONTES DE COMPREENSÃO DOS FORMADORES DE PROFESSORES DE QUÍMICA
DOI:
https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2019v24n2p181Palavras-chave:
Formação de Professores, Currículo, Prática como Componente Curricular, Materialização, Saberes de interfaceResumo
A proposta de implementação da Prática como Componente Curricular (PCC) nos cursos de formação de professores, prestes a completar dezessete (17) anos, ainda se constitui por entendimentos multifacetados, aspecto que tem repercutido em uma pluralidade de formatos para sua materialização nas matrizes curriculares. Diante desse cenário, nossa investigação buscou compreender os sentidos atribuídos pelos professores, formadores de professores de Química, sobre a PCC e identificar suas possíveis configurações em distintos cursos de Licenciatura. O material empírico contempla as respostas de vinte e um (21) professores, vinculados a nove (9) Instituições Públicas de Ensino Superior, a um questionário divulgado de forma on line, composto por nove (9) questões. Neste texto apresentamos a análise de três (3) questões, que tratam especificamente da PCC, a análise foi organizada em três (3) dimensões. A primeira estruturada a partir dos princípios teórico-metodológicos da Análise Textual Discursiva (ATD), desenvolvida por Moraes e Galiazzi (2016). A segunda e a terceira se orientaram por uma proposta de cunho qualitativo descritivo, tendo como base a investigação desenvolvida por Kasseboehmer e Farias (2012). Por meio do processo de compreensão das respostas ao questionário, podemos inferir que a PCC é percebida como espaço que permite a aproximação entre teoria e prática e valorização dos saberes de interface, ou seja, aqueles relacionados a aspectos específicos da aprendizagem, como os correlatos ao Ensino de Química. Suas possibilidades de implementação, em ampla maioria, remetem a alocação da carga de PCC em componentes curriculares que trabalham saberes de interface. Os princípios que orientam as estratégias didáticas nesses componentes se vinculam, majoritariamente, ao desenvolvimento de ações direcionadas ao microensino, relação teoria e prática, articulação a realidade escolar e análise e produção de materiais didáticos.Referências
Almeida, S., & Mesquita, N. A. S. (2017). Prática como Componente Curricular como elemento formativo: compreensões nos projetos pedagógicos de Licenciatura em Química em Goiás. Acta Scientiae, 19(1), 157-176. Recuperado de http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/2102/2282/acta/article/view/2102/2282
Barbosa, A. T, & Cassini, S. (2014). Sentidos da prática como componente curricular nos documentos do conselho nacional de educação. Revista de Ensino de Biologia (7), 195-204. Recuperado de https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf
Brito, L. D. (2011). A configuração da "prática como componente curricular" nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das universidades estaduais da Bahia. (Tese de Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.
Carneiro, E. B. B., Garrido, L. H., & Martins, V. P. (2014). Ensino de Química: aprendizagem ativa na formação docente. A disciplina articuladora: uma prática diferenciada nos cursos de licenciatura. In G. T. Goes, & O. T. Chamma, (Orgs.). Arquitetura da prática: interação do saber-fazer nas licenciaturas (pp. 47-62). Ponta Grossa, PR: Uepg.
Carvalho, A. M. P. de, & Gil-Pérez, D. (2011). Formação de Professores de Ciências: tendências e inovações (10a. ed.). São Paulo: Cortez.
Cunha, M. I. (2013). O tema da formação de professores: trajetórias e tendências do campo na pesquisa e na ação. Educação e Pesquisa, 39(3), 609-626. Recuperado de https://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022013005000014
Cunha, M. I. (2018). Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. Educação (Porto Alegre), 41(1), 6-11. Recuperado de http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/faced/article/view/29725/16841
Diniz-Pereira, J. E. (1999). As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a formação docente. Educação & Sociedade, 20(68), 109-125. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a06v2068.pdf
Diniz-Pereira, J. E. (2011). A prática como componente curricular na formação de professores. Educação (Santa Maria), 36(2), 203-218. Recuperado de https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/3184/2047
Diniz-Pereira, J. E. (2013). A construção do campo da pesquisa sobre formação de professores. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, 22(40), 145-154. Recuperado de https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/758/531
Diniz-Pereira, J. E. (2014a). Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: formação docente e transformação social. Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade, Naviraí, 1(1), 34-42. Recuperado de http://www.seer.ufms.br/index.php/persdia/article/view/15/4
Diniz-Pereira, J. E. (2014b). Arquitetura da prática na formação de professores. In G. T. Goes, & O. T. Chamma (Orgs.) Arquitetura da prática: interação do saber-fazer nas licenciaturas (pp. 09-11). Ponta Grossa, PR: Editora Uepg.
Flick, U. (2009). Uma introdução à Pesquisa Qualitativa (3a ed.). Porto Alegre, RS: Bookman.
Gauthier, C., Martineau, S., & François-Desbiens, J. (2006). Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. (2a ed.). Ijuí, RS: Unijuí.
Goes, G. T., & Chamma, O. T. (2014). A disciplina articuladora: uma prática diferenciada nos cursos de licenciatura. In G. T. Goes & O. T. Chamma (Orgs.). Arquitetura da prática: interação do saber-fazer nas licenciaturas (pp. 19-30). Ponta Grossa, PR: Uepg.
Kasseboehmer, A. C., & Farias, S. A. (2012). Conteúdos das Disciplinas de Interface Atribuídos a Prática como Componente Curricular em Cursos de Licenciatura em Química. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 5(2), 95-123. Recuperado de https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37716/28890
Martins, J. L. C., & Wenzel, J. S. (2017). A prática de ensino na organização curricular dos cursos de química licenciatura: atenção para as 400h de práticas de ensino. Revista Debates em Ensino de Química, 3(2), 5-26. Recuperado de http://www.journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/1782/1583
Mohr, A., & Wielewicki, H. G. (2017). Prática como componente curricular: que novidade é essa 15 anos depois? Florianópolis, SC: NUP/CED/UFSC.
Moraes, R., & Galiazzi, M. C. (2016). Análise Textual Discursiva. Ijuí, RS: Unijuí.
Parecer CNE/CP 009/2001, de 09 de maio de 2001. (2001). Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
Parecer CNE/CES 15/2005, de 02 de fevereiro de 2005. (2005). Solicitação de esclarecimento sobre as Resoluções CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e 2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior. Conselho Nacional de Educação. CES. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0015_05.pdf
Parecer CNE/CP 2/2015, de 25 de junho de 2015. (2015). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Recuperado de http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/parecer_cne_cp_2_2015_aprovado_9_junho_2015.pdf
Pereira, B., & Mohr, A. (2013). Prática como Componente Curricular em cursos de Licenciatura de Ciências Biológicas no Brasil. In Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC. Águas de Lindóia, SP, Brasil.
Pereira, B., & Mohr, A.. (2017). Origem e Contornos da Prática como Componente Curricular. In A. Mohr & H. G. Wielewicki (Orgs.) Prática como componente curricular: que novidade é essa 15 anos depois? (pp. 19-38). Florianópolis, SC: NUP/CED/UFSC.
Pimenta, S. G. (2012). O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e prática? São Paulo, SP: Cortez.
Pires, M. L. B. (2015). As Humanidades e as Ciências: dois modos de ver o mundo. GAUDIUM SCIENDI, 8(Jul.), 144-164. Recuperado de http://www2.ucp.pt/resources/Documentos/SCUCP/GaudiumSciendi/Revista_Gaudium_Sciendi_N8/15.Human_Ciencias.pdf
Resolução CNE/CP 01/2002, de 18 de fevereiro de 2002. (2002). Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
Resolução CNE/CP 02/2002 de 19 de fevereiro de 2002 (2002). Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica em nível superior. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
Resolução CNE/CP 02/2015 de 01 de julho de 2015. (2015). Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Recuperado de http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/res_cne_cp_02_03072015.pdf
Santos, F. M. T., & Greca, I. M. (2013). Metodologias de pesquisa no Ensino de Ciências na América Latina: como pesquisamos na década de 2000. Ciência & Educação (Bauru), 19(1), 15-33. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v19n1/03.pdf
Santos, A. J. S., & Mesquita, N. A. S. (2018). A Prática como Componente Curricular e o Estágio Supervisionado na Concepção dos Licenciandos: Entre o Texto e o Contexto. Revista Virtual de Química, 10(3), 487-501. Recuperado de http://rvq.sbq.org.br/imagebank/pdf/v10n3a05.pdf
Saviani, D. (1999). Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, 14(40), 143-155. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782009000100012.
Schnetzler, R. P. (2008). Educação Química no Brasil: 25 anos de ENEQ – Encontro Nacional de Ensino de Química. In M. I. P. Rosa & A. V. Rossi. Educação Química no Brasil: memórias, políticas e tendências (pp.17-38). Campinas, SP: Átomo.
Schön, D. A. (2000). Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre, RS: Artmed.
Silvério, L. E. R. (2014). As práticas pedagógicas e os saberes da docência na formação acadêmico-profissional em Ciências Biológicas. (Tese de doutorado). Centro de Ciências Físicas e Tecnológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
Souza Neto, S., & Silva, V. P. (2014). Prática como Componente Curricular: questões e reflexões. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, 14(43), 889-909. http://doi.org/10.7213/dialogo.educ.14.043.AO03
Yin, R. K. (2016). Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Porto Alegre, RS: Penso.
Zeichner, K. M. (2013). Políticas de formação de professores nos Estados Unidos: como e por que elas afetam vários países do mundo. Belo Horizonte, MG: Autêntica.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
A IENCI é uma revista de acesso aberto (Open Access), sem que haja a necessidade de pagamentos de taxas, seja para submissão ou processamento dos artigos. A revista adota a definição da Budapest Open Access Initiative (BOAI), ou seja, os usuários possuem o direito de ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e fazer links diretos para os textos completos dos artigos nela publicados.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Os autores mantém os direitos autorais sobre suas produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso comercial dos trabalhos.