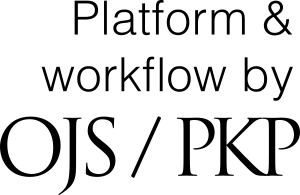EDUCAÇÃO CTS NO ITINERÁRIO FORMATIVO DO PIBID: POTENCIALIDADES DE UMA DISCUSSÃO A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO “A HISTÓRIA DAS COISAS”
DOI:
https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2018v23n2p18Palavras-chave:
Educação CTS, Discussão de documentário, PIBIDResumo
Este estudo consiste em analisar como se estabelece a (re)construção de concepções de inter-relações Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) de um grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), durante uma discussão a partir do documentário “A história das coisas”. Para a geração dos dados fez-se uma filmagem, seguida de transcrição e minutagem de todas as falas dos participantes. Com base nas análises centradas na interpretação de significados das falas dos sujeitos, tendo em vista a dimensão de seus efeitos ideológicos e políticos, emergiu um quadro de categorias de concepções críticas/reducionistas de inter-relações CTS diretamente relacionadas aos mitos da superioridade das decisões tecnocráticas, da perspectiva salvacionista/redentora atribuída à ciência e tecnologia, do determinismo tecnológico e do crescimento econômico ilimitado. Em suma, depreende-se que o documentário “A história das coisas”, quando trabalhado em contextos específicos, tais como o Pibid, tem potencial de (re)construir concepções críticas de inter-relações CTS. Com indicativos para avançar com as práticas de educação CTS no Pibid, considera-se bastante profícuo que esse programa venha a se consolidar como política de Estado que contribua para reestruturar a formação de professores de Ciências em nosso país.Referências
Auler, D. (2007). Articulação entre pressupostos do educador Paulo Freire e do movimento CTS. Contexto & Educação, 22(77), 167-188. Recuperado de https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/1089/844
_____. (2011). Novos caminhos para a educação CTS: ampliando a participação. In Santos, W. L. P., Auler, D. CTS e educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisas (pp. 73-97). Brasília: Editora UnB.
Auler, D., & Delizoicov, D. (2001). Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, 3(1), 1-13. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/epec/v3n2/1983-2117-epec-3-02-00122.pdf
Barros, S. M., Vieira, V., & Resende, V. M. (2016). Realismo crítico e análise de discurso crítica: hibridismos de fronteiras epistemológicas. Polifonia, Cuiabá-MT, 23(33), 11-28. Recuperado de http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/3854/2645
Brasil.(1996). Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasil.
_____. (2007a). Conselho Nacional de Educação. Escassez de Professores no Ensino Médio. Relatório produzido pela Comissão Especial instituída para estudar medidas que visem a superar o déficit docente no Ensino Médio (CNE/CEB). Recuperado de http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf
____. (2007b). Ministério da Educação. Portaria n. 38, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Recuperado de https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_Normativa_38_PIBID.pdf
Cechin, A. (2010). A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas Georgescu-Roegen. São Paulo: Editora Senac.
Dagnino, R. (2008). Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico: um debate sobre a tecnociência. Campinas: Unicamp.
_____. A tecnologia social e seus desafios. In Dagnino, R. (Org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. (pp. 53-70). Campinas: Komedi.
Dagnino, R., Thomas, H., & Davyt, A. (1996). El pensamiento em ciencia, tecnología y sociedad em latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria. Redes (Bernal), 3(7) 13-51. Recuperado de http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/56780c44d2729.pdf
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2006). Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In Denzin, N., Lincoln, Y. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens (pp. 15-41). Porto Alegre: Artmed.
Dusek, V. (2009). Filosofia da tecnologia. São Paulo: Edições Loyola.
Fairclough, N. (2001). Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB.
Fernandes-Sobrinho, M. (2016). Temas sociocientíficos no Enem e no livro didático: limitações e potencialidades para o ensino de Física. (Tese de Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília). Recuperado de http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/21065/1/2016_MarcosFernandesSobrinho.pdf
Fourez, G. (2003). Crise no ensino de Ciências? Investigações em Ensino de Ciências, 8(2), 109-123. Recuperado de http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID99/v8_n2_a2003.pdf
Freire, P. (1982). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy law and the economic process. Cambridge: Harvard University Press.
Herrera, A. O. (1973). Los determinantes sociales de la política científica en América Latina: política científica explícita y política científica implícita. Revista de Ciências Sociais, 13(49) 98-112. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90711276005
Japiassu, H. (2005). Ciência e destino humano. Rio de Janeiro, Himago.
Léna, P. (2012). Os limites do crescimento econômico e a busca pela sustentabilidade: uma introdução ao debate. In: Léna, P., & Nascimento, E. P. (Orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. (pp. 23-43). Rio de Janeiro: Garamond.
Linsingen, I. von (2007). Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação na América Latina. Ciência & Ensino, 1(n. especial), 1-19. Recuperado de http://200.133.218.118:3535/ojs/index.php/cienciaeensino/article/view/150/108
Lövy, M. (2014). O que é o ecossocialismo? São Paulo: Cortez.
Mies, M. (1992). Liberación del consumo o politización de la vida cotidiana. Mientras Tanto, (48), 69-86. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/27819955
Paniago, R. N., & Sarmento, T. J. (2016). O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência no contexto da formação de professores do IF Goiano. Itinerarius Reflectionis, 12(1), 1-15. Recuperado de https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/37138
Ramos, T. C., Fernandes-Sobrinho, M., & Santos (2016). Ensino de matriz energética na educação CTS: uma demarcação conceitual. Indagatio Didactica, 8(1), 1296-1310. Recuperado de http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/view/3935/3618
Resende, V. M., & Ramalho, V. (2006). Análise de discurso crítica. São Paulo: Contexto.
Santos, W. L. P. (2008). Educação científica humanística em uma perspectiva freireana: resgatando a função do ensino CTS. Alexandria, 1(1), 109-131. Recuperado de DOI: 10.5007/%25x
Simon, I. (1999). A revolução digital e a sociedade do conhecimento. Recuperado de http://www.ime.usp.br/~is/ddt/mac333/aulas/tema-1-04mar99.html.
Strieder, R. B. (2012). Abordagens CTS na educação científica no Brasil: sentidos e perspectivas. (Tese de Doutorado em Ensino de Ciências) Instituto de Física, Química, Biociências, Faculdade de Educação, USP, São Paulo.
Tinoco, D. (2014, 07 mai.). Falta de licenciatura atinge 35% de professores do nível fundamental. O Globo, Rio de Janeiro. Recuperado de http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/falta-de-licenciatura-atinge-35-de-professores-do-nivel-fundamental-12402843.
Varsavsky, O. (1969). Ciencia, política y cientificismo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Veiga, J. E., & Issberner, L. R. (2012). Decrescer crescendo. In Léna, P., & Nascimento, E. P. (Orgs.). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade (pp. 107-134). Rio de Janeiro: Garamond.
Weller, W. (2006). Grupos de discussão na pesquisa com adolescentes e jovens: aportes teórico-metodológicos e análise de uma experiência com o método. Educação e Pesquisa, 32(2), 241-260. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a03v32n2.pdf
Zen, E. L. (2007). Movimentos sociais e a questão de classe: um olhar sobre o movimento dos atingidos por barragens. (Dissertação de Mestrado em Sociologia), Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
A IENCI é uma revista de acesso aberto (Open Access), sem que haja a necessidade de pagamentos de taxas, seja para submissão ou processamento dos artigos. A revista adota a definição da Budapest Open Access Initiative (BOAI), ou seja, os usuários possuem o direito de ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e fazer links diretos para os textos completos dos artigos nela publicados.
O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas.
Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Os autores mantém os direitos autorais sobre suas produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso comercial dos trabalhos.